
Estranha e impressionante, simultaneamente,
esta lenda. Estranha, pela sua própria concepção natural, tão diferente de
outras histórias no género. Impressionante, por evocar o mundo do sobrenatural,
sempre tão próximo e tão afastado do nosso pensamento.
E, por singular coincidência, escutei-a pela primeira vez, era eu ainda bambino
irrequieto, numa noite de tormenta. A certa altura, nem sei porquê, disse que
tinha visto uma caveira a espreitar pela janela, iluminada por um relâmpago.
Foi o suficiente para a minha velha criada, a Maria do Rosário, tremer, benzer-se e correr a fechar a
janela. Depois, tremendo sempre, e benzendo-se de quando em vez, contou-me a
história que eu vou tentar reproduzir. A história da sua terra...
Há muitos, muitos anos, nesses terrenos onde hoje fica situada a freguesia de Almaceda,
existiam apenas enormes extensões despovoadas. E por ali costumava correr no
seu cavalo favorito um fidalgo de nome Rodrigo —
jovem, rico, mas bastante aventureiro. Era ele órfão de pai e mãe, e vivia com
sua irmã, D. Madalena,
numa casa senhorial, rodeado de criados. Tudo, porém, o aborrecia. Só os
passeios de manhãzinha ou ao entardecer, nos dias em que a chuva não vinha
alagar os campos, lhe davam certo bem-estar. E quando o tédio começava a assediá-lo,
como tenaz a apertar-lhe a garganta, D. Rodrigo fugia para a Corte ou para onde
pudesse divertir-se e gastar o seu dinheiro...
Certa manhã de Março, mal acabara o Sol de surgir no horizonte, D. Rodrigo e D.
Madalena montaram a cavalo e saíram para o seu habitual passeio. Ainda não
estavam longe de casa quando, de súbito, o fidalgo estacou a montada, olhando
fixamente um ponto. D. Madalena, apercebendo-se de que seu irmão ficara para
trás, parou também o cavalo e indagou, curiosa:
— Que estás a ver?
D. Rodrigo sorriu.
— Ou eu estou ainda a sonhar… ou junto àquele arbusto está urna caveira!
Madalena olhou-o, desconfiada e medrosa.
— Rodrigo! Que ideia a tua! Não brinques com essas coisas!
O jovem, porém, insistiu:
— Não estou a brincar. Ora repara! Vês... além?
O coração da jovem bateu com mais pressa.
— Sim... Parece que, na verdade...
D. Rodrigo tornou-se brincalhão.
— Vamos! Coragem!... Desce do teu cavalo e vem comigo cumprimentar a caveira!
Madalena afligiu-se:
— Rodrigo! Por favor! Tem mais respeito pelos mortos!
Uma gargalhada do jovem fidalgo perdeu-se na extensão do terreno.
— Respeito? Queres ainda maior do que estou a demonstrar? Chegamos ao apuro de
interromper o nosso passeio, para lhe dirigir um cumprimento!...
Madalena voltou o rosto, pálido pelo medo.
— Rodrigo! Não gosto dessas brincadeiras, já te disse!
O jovem aproximou-se da amazona. A sua voz soou ainda mais galhofeira:
— Grande medrosa! Nem pareces minha irmã! Porque tremes assim?
E apenas uma caveira que ali está!
Olhando-o de soslaio, Madalena inquiriu na mesma voz medrosa:
— Mas... donde teria vindo?
Nova gargalhada de D. Rodrigo.
— Minha tonta! Queres saber donde veio aquela caveira?... Do cemitério, com
certeza! Aquilo por lá deve andar muito aborrecido e ela resolveu dar um
passeio, como nós!
Então, a jovem gritou, como que alucinada:
— Rodrigo! Não brinques mais!
Ele ria, olhando a irmã.
— De que tens medo? Aquilo são ossos do corpo humano, nada mais.
— Bem sei. Mas devemos ter respeito por eles... Vamo-nos embora! Não me sinto
bem aqui...
— Pois vamos! Antes, porém, de abandonarmos este local, manda a etiqueta que
desejemos a esta caveira um bom dia...
— Rodrigo! Por favor!
Mas o tom suplicante da irmã irritou-o. Achou por bem contrariá-la. Excitá-la.
Continuou, sempre em tom de mofa:
— E já agora... se, na verdade, a caveira saiu do cemitério por estar
aborrecida... devo lembrar-lhe que, às vezes, também estou aborrecido... E,
como resido aqui perto, tenho muito prazer em convidá-la para jantar hoje
comigo!
Madalena tapou o rosto com as mãos, numa irreprimível crise de choro.
— Que heresia, Rodrigo! Que heresia!
E esporeando o cavalo, a jovem amazona voltou para casa, deixando atrás de si
as gargalhadas impertinentes do irmão, que ria do seu pânico...
Contudo ainda a donzela galopava à vista,
quando aos ouvidos de D. Rodrigo soou uma voz cava e pausada, vinda não se
sabia de onde:
— Cavaleiro! Não quero de forma alguma desapontar-te... Se isso te diverte,
podes estar certo que esta noite não esquecerei o teu convite...
O jovem fidalgo olhou em volta. Ninguém, além dele próprio e da figura vaga da
irmã que continuava galopando, a perder-se na distância...
O riso morreu-lhe na garganta. Seria uma alucinação dos seus sentidos?
Sentiu-se inquieto. Estava já arrependido da sua brincadeira macabra. Bem lhe
tinham recomendado mais respeito pelos mortos...
Conforme reza a história que estou a
reproduzir, D. Rodrigo ficou-se ainda uns momentos a olhar a caveira no solo.
Sem voz. Sem gestos. De súbito, como louco, esporeou o cavalo e seguiu para o
mosteiro mais próximo, onde contou o sucedido. Os frades, porém, julgaram-no
ensandecido e apenas lhe deram uma pequena cruz para colocar no peito, a qual o
livraria dos ataques do Demónio. Mais reconfortado, D. Rodrigo voltou ao solar
onde a irmã o esperava, transida de pavor.
Ao vê-lo entrar, ela correu ao seu encontro:
— Tardaste tanto! São quase horas de jantar e eu morro de medo!
Desta vez ele não brincou.
— Sossega! Tudo correrá bem. Trago comigo esta cruz que me deu o irmão
Gregório.
Madalena olhou-o com espanto.
— Mas...
Ele interrompeu-a. Os seus modos, agora, eram solenes.
— Ouve, Madalena! Se alguém estranho vier jantar hoje connosco, teremos de o
receber como bons anfitriões. Já mandei colocar mais um talher na mesa. E
avisei o nosso criado José de que a visita esperada hoje vai causar-lhe grande
pasmo. Portanto… não se deve admirar.
A jovem olhou o irmão, num misto de assombro e medo.
— Tu... tu pensas que, na verdade… alguém estranho virá aqui?...
Ele acenou com a cabeça afirmativamente, deixando a irmã ainda mais trémula.
Vai para o teu quarto. Hoje dispenso-te de jantar.
Madalena gritou, agarrando-se a ele:
— Nem que morra de medo, hei-de ficar contigo! Não te deixarei sozinho!
Umas pancadas fortes, na porta da entrada, interromperam a conversa. O dono da
casa sorriu com esforço.
— Aí está a nossa visita! E pontual...
Balbuciando quase, Madalena segredou:
— Benze-te, Rodrigo! Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor,
dos nossos inimigos...
Um grito do criado José interrompeu a oração de Madalena e logo uma voz cava,
soturna, se fez ouvir.
— Diz a teu amo que sou o seu convidado desta noite.
Tentando uma segurança que não sentia, o dono da casa ordenou:
— Entre, por favor! Tem o seu talher junto ao meu. Como vê... esperava-o!
E diz a mesma história remota que estou a evocar que um vulto sem rosto surgiu
no salão. D. Madalena caiu numa cadeira, quase desfalecida. D. Rodrigo chamou a
si todas as suas forças para mostrar-se sereno. Convidou, a tentar uma
tranquilidade inexistente:
— Queira sentar-se...
Mas a voz cava e soturna voltou a fazer eco no salão:
— Não vim aqui para cear contigo neste palácio. Vim apenas buscar-te!
D. Rodrigo empalideceu.
— Não compreendo...
Entre soluços, a voz de D. Madalena murmurou:
— Senhor meu Deus! Não nos desampareis!
Mas já o vulto fantasma informava com autoridade:
— Quero que me acompanhes à minha morada.
— E... onde mora?
— Muito perto da igreja. Vem comigo. Sou eu, agora, quem te convida. Preciso
falar-te!
Reunindo todas as suas forças, D. Madalena gritou:
— Não vás, Rodrigo! Pode ser uma alma perdida!
A voz cava soou, de novo, mas desta vez num tom zombeteiro:
— Acaso terás medo, jovem fidalgo? Tu, o valente aventureiro de tantas noites
de orgia?
A jovem suplicou ainda:
— Meu irmão! Manda-o embora! Manda-o com Deus!
Mas D. Rodrigo sentiu que não podia fugir. Que não devia fugir. Que não queria
fugir. Colocou a sua capa sobre os ombros e saiu, deixando a pobre Madalena a
desfazer-se em lágrimas e em pavores...
Quando a porta do palácio se fechou sobre os dois vultos, o frio cortante da
noite veio bater no rosto de D. Rodrigo. Não havia luar. Os gritos das aves
nocturnas ouviam-se de vez em quando, soando como alerta. O jovem fidalgo tinha
um peso enorme no peito, mas tentava não mostrar medo.
Começaram a andar. O vulto sem rosto à frente. D. Rodrigo um pouco mais atrás.
Nem uma única palavra trocaram pelo caminho. Apenas os passos ressoavam...
Nesse semi-silêncio, o jovem ia recordando o seu passado. Passado breve ainda,
sim, mas já cheio de nódoas. E diz-se que o jovem D. Rodrigo, nessa hora
amargurada, prometeu a Deus, intimamente, modificar-se, se não lhe acontecesse
mal algum...
Chegados ao portal da igreja donde mal se
distinguiam, ou antes, apenas se adivinhavam as cruzes do cemitério, D. Rodrigo
involuntariamente estacou. Então o vulto sem rosto voltou a falar:
— Entra na igreja comigo! Conseguimos ser pontuais.
Efectivamente, no relógio da torre batiam pesadas e soturnas doze badaladas.
O jovem fidalgo voltou a hesitar. Mas já o vulto sem rosto gritava na noite
escura:
— Entra! Não há tempo a perder! Esperam-me lá em baixo e já sabem que vem
comigo um companheiro.
Os pensamentos chocaram-se no cérebro de D. Rodrigo. A fim de ganhar tempo, D.
Rodrigo perguntou:
— Para onde me leva?
Então, soou uma gargalhada. Gargalhada horrível. Gargalhada lancinante.
Gargalhada que ficou a repercutir no espaço. Depois o vulto falou de novo,
enquanto empurrava suavemente o jovem fidalgo, obrigando-o a entrar na igreja
deserta:
— Vais conhecer o meu palácio. Vês esta lousa aberta? É a minha morada...
Vamos, desce!
O moço fidalgo compreendeu que tinha de reagir. Estava à beira do abismo.
Revoltou-se, enérgico, juntando os restos de coragem:
— Para que hei-de descer?
— Tens medo?
Era um desafio. Briosamente, D. Rodrigo respondeu:
— Não! Quem foi sepultado na igreja não pode ser uma alma penada!
Segunda gargalhada estridente fez fugir os pássaros nocturnos que lá se haviam
refugiado.
— Nessa parte é que reside o teu engano! O teu e o dos que me sepultaram.
Julgaram-me bom em vida... Mas só Deus conhecia os meus grandes erros. Por isso
Ele condenou-me!
— Condenado?
— Sim! E agora, já que troçaste de mim, quero que desças, para saberes como é a
minha ceia!
Embora arrepiado, compreendendo mesmo que estava a ceder terreno, D. Rodrigo
ainda quis defender-se.
— Não vou! Deus proíbe-me que me enterre vivo!
O vulto sem rosto vomitou uma praga. E acrescentou:
— Se não fosse a cruz que trazes ao peito, eu te obrigaria a descer! E lá em
baixo sofrerias comigo o fogo da redenção!
Para si próprio, o fidalgo murmurou uma prece em que punha toda a sua alma:
— Que Deus me acuda!
Instantaneamente o vulto sem rosto pareceu acalmar-se. A sua voz soou com mais
brandura:
— Fui na terra um aventureiro como tu, sem respeito pelas coisas sagradas. Um
homem fútil e leviano. Só fazia caridade por ostentação. Que a minha pena te
sirva de alerta! Cada vez que encontrares algum corpo sem vida, lembra-te da
alma que o abandonou, pois ela poderá precisar das tuas orações. Em vez de
escarneceres… reza! Quando se te depare um osso humano, enterra-o com carinho
em terreno sagrado, orando pelo eterno descanso daquele a quem pertenceu! Que a
tua alma ceda à caridade e à compaixão pelos mortos! Que a tua alma ceda à
verdade que estou a transmitir-te, pois começo a ver luz no meu caminho! Alguém
está orando por mim. Alguém neste momento faz promessas para libertar-me!... É
a tua irmã! Por isso te dou um bom conselho: Vai-te e não esqueças quanto te
disse, se quiseres também salvar-te! Que a tua alma ceda ao orgulho que foi teu
apanágio, para que nela ocupe lugar o amor ao próximo!
A voz cava e soturna deixou de se ouvir. O
vulto sem rosto desaparecera pela lousa aberta. Na igreja o silêncio era
pesado. Então, semilouco, D. Rodrigo voltou a correr para casa. A correr e a
rezar. E a repetir, no meio das suas orações, numa estranha obsessão:
— Que a tua alma ceda! Que a tua alma ceda...
Chegando à porta do solar, D. Madalena, ali o esperava, sempre a rezar,
caiu-lhe nos braços, chorando de comoção.
— Graças a Deus! Graças a Deus voltaste!
D. Rodrigo voltara, sim. Mas a sua razão durante algum tempo continuou turbada.
Amiúde e sem razão plausível, ele repetia, monocordicamente:
— Que a tua alma ceda! Que a tua alma ceda...
E o povo dos arredores, ouvindo-o assim, começou a tratá-lo por Almaceda,
segundo nos conta a história velhinha...
Tempos depois, já refeito do choque brutal que experimentara, reorganizou a sua
vida, tornando-a sã, e distribuiu parte das suas terras pelos pobres que ao seu
solar vinham pedir abrigo. E foram esses mesmos pobres, chegados das terras
mais distantes, que acharam por bem denominar aquele local onde iriam construir
as suas casas como a Terra do Almaceda, mais tarde apenas Almaceda, em
homenagem ao fidalgo que tanto os ajudava.
Fonte BiblioMARQUES, Gentil
Bem hajam
Carlos Fernandes
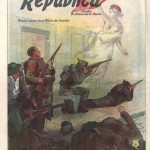 O princípio do fim
O princípio do fim O pessimismo era geral, tal como hoje, a pergunta impunha-se :«Há ou não há recursos bastantes, intelectuais, morais , sobretudo económicos, para Portugal subsistir como povo autónomo, dentro das estreitas fronteiras portuguesas ?
O pessimismo era geral, tal como hoje, a pergunta impunha-se :«Há ou não há recursos bastantes, intelectuais, morais , sobretudo económicos, para Portugal subsistir como povo autónomo, dentro das estreitas fronteiras portuguesas ?















.jpg)








